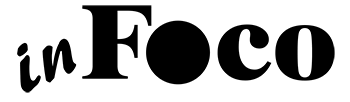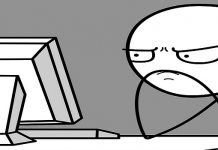O termo é velho: inquisição das redes sociais. Mas não se trata apenas de bloqueios ou cancelamentos ou discursos de ódio político-ideológicos. É sobre a necessidade que a maioria das pessoas tem de julgar os outros. Recentemente dois casos nas redes sociais que nos fizeram refletir como o comportamento do ser humano continua o mesmo, porém no mundo virtual, o que denota algo pior: covardia. A constatação é óbvia: ainda vivemos uma época de julgamentos, de inquisição, que se esconde atrás de um enter.
Nunca a “comunicação” esteve tão em alta, embora continue péssima. É fato que sempre houve julgamentos por parte das pessoas, mas sempre com aquele receio de falar, de dar as caras. Hoje em dia, sob a proteção de uma tela de computador, é mais fácil dar a opinião, seja ela coerente ou completamente ignorante. A opinião, de qualquer modo, quando envolve a vida privada é completamente desnecessária e inoportuna.
A gravidez após estupro voltou a ser assunto recentemente no Brasil por conta da menina de Santa Catarina vítima de violência sexual impedida de fazer o aborto legal por uma juíza e do caso revelado pela atriz Klara Castanho, que teve informações pessoais vazadas na internet. Outra criança de 11 anos, grávida de gêmeos, também foi destaque nos noticiários depois de fazer aborto no Piauí; o suspeito do crime é o padrasto dela de 35 anos.
Estes casos viralizaram e dividiram as redes sociais, mas só confirmaram que ser mulher não é fácil, mas sempre pode piorar. Mesmo que haja uma natural repulsa contra os estupradores, não são eles que ficam sob os holofotes da opinião pública; são as mulheres.
A história de Klara, atriz de 21 anos que descobriu uma gravidez resultante de um estupro e tomou a decisão de entregar voluntariamente a criança para adoção, causou imensa comoção, apesar do inquisidor tribunal. Em carta aberta divulgada em seu perfil no Instagram, Klara fez o relato sobre a violência que sofreu e a descoberta da gestação: “Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga”.
Todas as informações que constam no relato de Klara – o medo, a violência obstétrica sofrida no atendimento médico, a decisão de dar a criança para adoção, o que ela sentiu e como lidou com tudo isso – se tornaram públicos não por escolha da atriz, mas como uma forma de “se explicar” perante os ataques que passou a sofrer após o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, e a youtuber e pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos Antonia Fontenelle exporem publicamente a gravidez e a decisão de Klara.
Em sua coluna no portal Metrópoles, Leo Dias publicou um texto intitulado “Estupro, gravidez indesejada e adoção: a verdade sobre Klara Castanho”, que foi excluído após a repercussão negativa nas redes sociais. Mas, cerca de dez dias antes de expor Klara, o colunista disse, em entrevista ao The Noite – programa de entrevistas do SBT comandado por Danilo Gentili – que sabia de informações “inacreditáveis” sobre uma atriz (sem citar nomes) e que “a conta dela iria chegar, pois envolve mexer com vidas”. Então, veio a matéria.
Uma gravidez indesejada resultado de estupro e a decisão de fazer a entrega voluntária do bebê para adoção são parte da vida privada, e não da vida pública da atriz. Inclusive, o processo de entrega voluntária, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é sigiloso e protege a privacidade tanto da mulher quanto da criança. No caso de Klara Castanho, o primeiro “desvio ético”, para usar um eufemismo, foi de uma profissional da saúde – a enfermeira que a abordou após o parto, fazendo perguntas e ameaças, como ela relata na carta aberta: “Imagina se tal colunista descobre essa história”. O hospital divulgou o nome de Klara, o local e o horário de nascimento da criança, todas informações que deveriam estar sob proteção legal. Mais uma para a série de violências que uma jovem de 21 anos vem sofrendo.
Assim como o texto da coluna, as publicações promovendo a história publicada no portal também foram removidas do perfil no Instagram do colunista. No Twitter, a diretora de redação do Metrópoles, Lilian Tahan, se pronunciou, mas foi questionada por colegas por ter curtido comentários críticos à matéria.
A youtuber Antonia Fontenelle, em post no Instagram, escreveu: “Meus B.Os eu assumo, meus filhos também. Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar pro acaso É CRIME SIM, só acha bonitinho essa história de adoção quem nunca foi em um abrigo, ademais quando se trata de uma criança negra. O nome disso é ABANDONO DE INCAPAZ” [sic]. Uma hora depois, Klara Castanho divulgou a carta aberta com seu relato.
O primeiro questionamento que se faz, é que em meio ao entretenimento, a cultura de celebridades, a busca por likes e engajamento, onde fica a ética profissional e o cuidado com a vida privada das pessoas? Fofoca e vida privada não são jornalismo. Mas “vendem” porque as pessoas adoram é essa é a verdade. É um ciclo repugnante, do qual profissionais sérios não participam.
É absurdo que ainda seja necessário explicar isso a essa altura que uma pessoa pública tem direito a privacidade, no que se refere a vida íntima principalmente. A repercussão do caso tomou proporções colossais. O que deveria ser algo da vida privada se tornou parte do debate público após ter sido publicado por um colunista, expondo a dor de uma violência sofrida e questionando a decisão da entrega voluntária, processo que é feito legalmente e com acompanhamento psicológico, técnico e jurídico.
Hoje, é inegável que a cultura de celebridades permeia o dia a dia de todos aqueles que estão conectados à internet. A possibilidade de acompanhar de perto o dia a dia de famosos, interagir com ídolos nas mesmas plataformas em que interagimos com os nossos amigos e o sentimento de proximidade. Nada mais sintomático disso do que a proliferação de perfis de fofoca nas redes sociais, como Twitter e Instagram, que publicam informações nem sempre verdadeiras sobre os famosos e as subcelebridades.
Até mesmo o jornalismo de entretenimento e de celebridades é contra esse tipo de “informação”. Quando a informação não passa de uma fofoca, é simplesmente lógico que não deve ter espaço nos jornais. Quando essa fofoca impacta diretamente a vida das pessoas envolvidas, muito menos. A publicação irresponsável de informações legalmente protegidas afeta diretamente a vida da mulher e da criança em questão; essa quebra de sigilo configura muito mais do que apenas uma “exposição”. Se, como diz Fontenelle, a entrega voluntária para adoção é “abandono de incapaz”, do que podemos chamar o que o colunista fez ao expor a intimidade de uma mulher de 21 anos que teve uma gravidez indesejada após um estupro?
Imagine se as duas meninas que também estiveram na Inquisição Digital recentemente fossem também famosas ou filhas de celebridades?
Na mesma época destes casos, a Suprema Corte dos EUA revogou a lei de 1973 que garantia às mulheres grávidas, a liberdade e autonomia para interromper a gestação sem interferência do Estado – o que enfatiza que situações como a exposição da vida privada da atriz brasileira e das meninas que precisaram abortar, pois foram vítimas de estupro, mostram claramente que nenhum direito é, de fato, garantido. Como bem atestou Simone de Beauvoir, “basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”. A decisão da mulher – seja de abortar, entregar à adoção, ou mesmo de seguir com a gestação – parece ser sempre a escolha errada, independentemente de qual seja.
Além disso, a preocupação com a “vida” é bastante relativa. Quando a vida em questão é a de uma mulher, o discurso pró-vida muda, seja uma jovem de 21 anos ou uma criança de 11 anos. De uma forma ou de outra, são as mulheres que ainda vão para a fogueira.
Aborto, sempre polêmico
Num país onde reina o machismo e o racismo, é desnecessário questionar o por quê o aborto é sempre tão polêmico. Hoje, o aborto segue como um crime previsto no código penal, tanto para quem faz quanto para quem pratica ou auxilia a fazê-lo. É um tema delicado, pois implica o debate sobre a ética, o direito, a liberdade, a responsabilidade e o poder de o ser humano dispor de seu próprio corpo.
Contudo, aqui estamos falando do aborto legal, que apesar da nomenclatura também incita controvérsias e polêmicas. Ele é um procedimento de interrupção de gestação autorizado pela legislação brasileira e que deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É permitido nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto.
Embora este direito seja previsto em lei há mais de 80 anos, mulheres enfrentam dificuldade para abortar em hospitais brasileiros e precisam, às vezes, viajar mais de 1.000 quilômetros para se submeter ao procedimento de forma legal. Apesar da “legalidade”, na prática é um direito não muito garantido e ainda há muitas dúvidas, inclusive por parte de autoridades, a respeito do que pode ser feito e como deve conduzido o processo. Vamos ao beabá então.
O que é aborto legal?
A legislação brasileira que trata do aborto foi criada há mais de 80 anos. O Código Penal Brasileiro, de 1940, tipifica o aborto como crime e prevê que mulheres e médicos sejam punidos penalmente se provocarem um aborto. Há, no entanto, algumas exceções na legislação: estes são os casos de aborto legal.
Em que situações é permitido no Brasil?
O aborto é permitido em três situações:
- anencefalia fetal, ou seja, má formação do cérebro do feto;
- gravidez que coloca em risco a vida da gestante;
- gravidez que resulta de estupro.
Vale lembrar que a gravidez decorrente de estupro engloba todos os casos de violência sexual, ou seja, qualquer situação em que um ato sexual não foi consentido, mesmo que não ocorra agressão. Isso inclui, por exemplo, relações sexuais nas quais o parceiro retira o preservativo sem a concordância da mulher.
O que é preciso para fazer o aborto legal?
Para os casos de gravidez decorrente de violência sexual, não é preciso apresentar Boletim de Ocorrência ou algum exame que ateste o crime, como um laudo do Instituto Médico Legal (IML). Para o atendimento, basta o relato da vítima à equipe médica. Todos os documentos necessários são preenchidos no próprio hospital. Neles, a mulher opta oficialmente pelo aborto e se responsabiliza pelos fatos narrados à equipe médica.
A norma técnica do Ministério da Saúde que regulamenta a prática também recomenda que a mulher seja atendida por uma equipe multidisciplinar, com médico, assistente social e psicólogo, e que pelo menos três profissionais de saúde participem da reunião para definir se a mulher pode realizar o aborto ou não. Já para os casos de gravidez de risco e anencefalia, é necessário laudo médico que comprove a situação. Além disso, um exame de ultrassonografia com diagnóstico da anencefalia também pode ser exigido para o abortamento causado por má formação do feto.
Qual tempo máximo para fazer aborto?
A coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro, Flávia Nascimento, afirma que existe uma “dúvida geral” nos casos em que a gravidez decorrente de uma violência sexual ultrapassa o prazo de 21 semanas ou quando o feto tem um peso acima de 600 gramas. No entanto, a defensora explica que é possível interromper a gravidez de forma legal mesmo nesses casos, porque o Código Penal não determina um prazo máximo. “Há uma dúvida se seria possível realizar os abortos nesses casos. A gente entende que a lei não impõe nenhuma limitação, não tem limitação temporal de tempo gestacional”, explica. Apesar disso, não há consenso nacional sobre a realização de interrupções de gestação após as 22 semanas. Para os abortos justificados por risco de vida à gestante e anencefalia, não há idade gestacional máxima para a realização do procedimento.
O médico tem que contar à polícia que um aborto legal foi feito?
Sim, caso seja uma gravidez decorrente de violência contra a mulher. Desde 2020, uma lei obriga profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia, em 24 horas, indícios de violência contra a mulher.
Onde ele é feito?
Isso varia, mas, em geral, hospitais públicos de grandes cidades oferecem o serviço. O problema é que nem todo estabelecimento que faz aborto legal no Brasil realiza o procedimento nas três situações previstas em lei. Segundo médicos e pesquisadores, é comum que casos de anencefalia encontrem menos resistência que os de violência sexual, por exemplo. Na dúvida, uma opção é procurar ONGs que auxiliem mulheres a encontrar esses serviços ou a Defensoria Pública da União (DPU).
Como ele é feito?
Segundo a norma técnica do Ministério da Saúde, sempre que possível deve ser oferecida à mulher a opção de escolha da técnica a ser empregada para a interrupção da gestação:
- abortamento farmacológico, ou seja, induzido por medicamentos;
- procedimentos aspirativos, como a aspiração manual intrauterina (AMIU);
- ou dilatação seguida de curetagem.
Para quem recorrer quando o direito é negado?
As mulheres que tiverem o direito negado devem buscar a defensoria pública, seja ela estadual ou federal.
O médico pode se negar a fazer o aborto legal?
Em alguns casos, sim. Para isso, ele precisa alegar objeção de consciência, ou seja, declarar que a prática lhe causaria profundo sofrimento emocional. Segundo o Código de Ética Médica, “o médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não deseje, salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente”.
Quantos abortos são feitos no Brasil?
Dados coletados pelo portal g1 indicam que, de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, 1.823 abortos legais foram feitos no Brasil. O número é considerado pequeno por especialistas e médicos. A título de comparação, a médica Helena Paro cita o número de crianças que têm filhos no Brasil anualmente. “Se a gente for pensar só nas meninas que engravidam antes dos 14 anos, que teriam direito ao aborto, porque são vítimas de estupro de vulnerável, a gente tem 20 mil partos [a média de meninas dessa idade que tiveram filho de 2016 a 2020 é de 20,8 mil] por ano. Elas não são obrigadas [a abortar], mas elas têm esse direito. Você acha que todas queriam manter a gravidez?”, afirma.
Eu, juiz

Dúvidas explicadas, vamos entender o que está por trás deste emaranhado de condenações: a necessidade de julgar. Parece comum ou natural o ato de julgar o outro, e também a si! Pode até ser comum, mas não é saudável. O ato de julgar revela muito mais de nós do que dos julgados, particularmente do lado frágil ou dos chamados “defeitos”. Por exemplo, quando julgamos o outro em sua maneira agressiva, grosseira, arrogante folgada de ser, temos que olhar para nós mesmos e pensar: estamos falando do outro ou de nós mesmos? Todo mecanismo de defesa é uma estratégia que as pessoas usam, sem perceber que estão fazendo isso, a fim de protegerem-se de coisas que realmente não dão conta de lidar ou pensar, o que traz certo alívio aos sentimentos de culpa.
Julgar os outros nos ajuda a ter a sensação de segurança. É uma ação que usamos para controlar nossa vida e a situação ao nosso redor, às vezes inconscientemente. Uma vez que nos damos conta disso, podemos tomar atitudes para mudar.
Quando usamos a projeção como um mecanismo de defesa ao julgar o outro com pensamentos desagradáveis, sentimento ou qualidades que dizemos pertencer a ele, possivelmente estamos falando de nós mesmos, das atribuições negativas que não enfrentamos e às quais não demos os devidos olhares e atenção que deveriam ser dados. Somos capazes de condenar os sentimentos que encaramos como inaceitáveis sem atribuir essas qualidades indesejáveis para nós mesmos, projetando-os nos outros.
Para que esse mecanismo perca sua força, se faz necessário perceber e enfrentar esses sentimentos e pensamentos conflitivos, ao invés de projetar (julgar). Só que muitas vezes não nos damos conta disso ou, mesmo percebendo, não conseguimos lidar sozinhos com essas situações.
Todos nós, alguma vez na vida, já caímos na terrível armadilha de julgar os outros. Mas, por que nos referimos dessa maneira a este fato tão comum? Cada vez que emitimos um julgamento sobre alguém, criamos uma ou mais histórias que podem estar muito distantes da realidade, histórias que inventamos.
A razão pela qual julgamos tão precipitadamente o outro tem a ver com o nosso próprio ego. Conscientemente ou inconscientemente, precisamos nos sentir melhores do que outros ou expressar nossa rejeição diante de determinada atitude. Quando julgamos, estamos fechando a porta da empatia.
Quando falamos de ser empático com os outros, muitas pessoas dizem “sim, eu sou empático”. Se uma amiga desabafa comigo e precisa ser ouvida, eu sou capaz de me colocar no seu lugar, compreender e animar sem cair na tentação de julgar. É verdade, você é empático, mas apenas com as pessoas que você conhece; com os demais, você cai na armadilha de julgar.
Precisamos acreditar que somos superiores, especiais e diferentes. Preferimos observar de uma distância segura a pessoa que achamos que não está agindo bem. Pensamos dessa forma porque isto alimenta o nosso ego e, de alguma forma, nos faz sentir melhores com nós mesmos.
Alguma vez você já se sentiu isolado porque ninguém o compreendia? Certamente, mais de uma vez passou pela sua mente a frase “se soubessem o que eu estou vivendo, pelo que estou passando …” Tudo isso pensam todas aquelas pessoas que você julga sem saber realmente o que está acontecendo com elas. É bem diferente ver as coisas do lugar do outro, não é mesmo?
Além disso, você acredita que está certo e que a outra pessoa não está agindo corretamente, mas quem é você para julgá-la? Você não sabe o que aconteceu no seu passado. Nós somos perfeitos? Todos nós temos o direito de errar, e inclusive de aproveitar essa oportunidade para aprender.

Se você não sabe, pergunte em vez de julgar – Não vivemos a vida do outro; o que nós vivemos é o que faz com que seja difícil para nós levantar todas as manhãs. Talvez por isso, apontamos no outro o nosso ponto fraco. Se você acredita que o outro age tão mal, se a sua atitude o desconcerta e você lhe aponta o dedo, porque não pergunta a ele o que está acontecendo? Porque talvez seja isso que está faltando na sua vida. Certamente, em algum momento, você desejou que alguém fizesse algo semelhante com você: em vez de ignorá-lo ou vê-lo com os olhos cheios de julgamentos negativos, lhe abrissem os braços com compreensão e entendimento.No entanto, temos medo de perguntar. Se fizéssemos isso, todos os nossos preconceitos entrariam em colapso, teríamos que desmontar o esquema que construímos em nossas mentes e nosso ego poderia ser afetado. De alguma forma, nos protegemos caindo em uma das armadilhas mais letais: criticar o outro constantemente. É jargão, mas lembre-se: julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define quem você é.
- Se pergunte por que você sentiu necessidade de julgar.
Mandando a real aqui: aquela ânsia em julgar, muito frequentemente, está associada a alguma insegurança profundamente enraizada dentro nós. Não estamos realmente julgando a escolha da outra pessoa, estamos simplesmente tentando nos fazer sentir melhor quanto às nossas próprias escolhas colocando os outros para baixo. Uma das melhores maneiras de passar a julgar menos é “redirecionar nossos pensamentos para a curiosidade” sobre nós mesmos, tentando descobrir o motivo primário que nos levou a querer julgar a outra pessoa.
- Perceba o que incita sua vontade de julgar.
Muitas vezes julgamos por reflexo, não como resultado de uma atitude consciente.Identificar os momentos em que você está mais propenso(a) a julgar pode te ajudar a diminuir seus pensamentos críticos.
- Pare e considere os motivos para o comportamento de alguém.
Geralmente não sabemos o que levou uma pessoa a fazer algo que desaprovamos. Então, pare e pense: você provavelmente já deve ter feito algo que outras pessoas acharam estranho ou bizarro, mas houve um motivo, não é? Estenda esse mesmo benefício da dúvida para outras pessoas e pense nos motivos possíveis que podem tê-las levado a fazer o que fizeram.
- Escreva exatamente o que você pensou ao julgar alguém. Depois, tente reescrever isso de maneira positiva.
- Lembre-se de que todos estão fazendo seu melhor.
O que mudou da Inquisição “santa” para a digital?
Por que quase todas as bruxas eram mulheres durante a inquisição?
Já que estamos falando em “Santa Inquisição”, já parou para pensar por que se fala em “caça às bruxas” e não em “caça aos bruxos”? A expressão vem do movimento de perseguição religiosa, ocorrido na Europa e Nova Inglaterra (atualmente, região no nordeste dos Estados Unidos), entre os séculos XV e XVIII. Mas por que a maioria das supostas bruxas eram mulheres?
É fato que as mulheres eram maioria entre os acusados de bruxaria. Por exemplo, no famoso julgamento das bruxas de Salém, em 1692, 14 das 19 pessoas consideradas culpadas e executadas por bruxaria eram mulheres. Em toda a Nova Inglaterra, onde os julgamentos de bruxas ocorriam quase que regularmente entre 1638 e 1725, as mulheres superaram largamente o número dos homens entre os acusados e executados. E, vale destacar, mesmo quando os homens enfrentavam alegações de bruxaria, geralmente isso acontecia porque estavam de alguma forma associados às mulheres acusadas, como maridos ou irmãos.
O alto número de mulheres acusadas de serem bruxas é explicado pela posição que elas ocupavam na sociedade da época. Dentro dessa sociedade profundamente religiosa, quase tudo que uma mulher fizesse poderia se transformar em prova de seu pacto com as forças das trevas. Na época, pensava-se que as mulheres deveriam apenas dar à luz a filhos, criá-los, administrar a vida doméstica e ser exemplo de subserviência cristã a seus maridos. Esse pensamento vinha da leitura da época sobre a Bíblia e a história de Eva e sua maçã pecaminosa. Por conta disso, as mulheres eram vistas como mais propensas a serem tentadas pelo diabo. Como magistrados, juízes e clérigos, os homens impuseram as regras dessa sociedade americana primitiva.
Toda mulher poderia ser uma bruxa – Não é exagero quando dissemos que praticamente qualquer coisa que a mulher fizesse poderia ser motivo para que ela fosse acusada de praticar bruxaria. Exemplificando, possuir muitas riquezas poderia ser visto como ganhos pecaminosos. Por outro lado, ser muito pobre sinalizaria um caráter duvidoso. Ter muitos filhos poderia indicar um acordo com um diabo. Ter poucos filhos também era motivo de suspeita.
Pior ainda para aquelas mulheres que não cumpriam de alguma forma os papéis prescritos. Muitas parteiras e curandeiras foram mortas, assim como mulheres que não eram consideradas castas o suficiente.
Boatos eram provas
Através dos registros das acusações fica ainda mais claro como a caça às bruxas era calcada em rumores. Um exemplo é a história de Mary Webster, de Hadley, Massachusetts. Ela era casada, mas não tinha filhos. Mary contava com a caridade de vizinhos para sobreviver. Aparentemente, Webster não era grata o suficiente pelas esmolas que recebia e desenvolveu uma reputação de ser uma pessoa desagradável. Então, os vizinhos de Webster a acusavam de bruxaria em 1683, quando ela tinha cerca de 60 anos, alegando que trabalhava com o diabo para enfeitiçar as criações de gado do local. Já Mary Bliss Parsons, de Northampton, também em Massachusetts, era o oposto de Webster. Ela era a esposa de um homem bastante rico e tinha nove filhos. Mas, os vizinhos a consideraram uma “mulher de maneiras dominadoras”. Em 1674, ela foi acusada de bruxaria.
A “caça às bruxas é um elemento histórico da Idade Média”. Entre os séculos XV e XVI o “teocentrismo” – Deus como o centro de tudo – decai dando lugar ao “antropocentrismo“, onde o ser humano passa a ocupar o centro. Assim, a arte, a ciência e a filosofia desvincularam-se cada vez mais da teologia cristã, conduzindo, com isso a uma instabilidade e descentralização do poder da Igreja. Como uma forma de reconquistar o centro das atenções e o poder perdido, a Igreja Católica instaurou os “Tribunais da Inquisição”, efetivando-se assim a “caça às bruxas“.
A “caça às bruxas” durou mais de quatro séculos e ocorreu, principalmente, na Europa, iniciando-se, de fato, em 1450 e tendo seu fim somente por volta de 1750, com a ascensão do Iluminismo. A “caça às bruxas” admitiu diferentes formas, dependendo das regiões em que ocorreu, porém, não perdeu sua característica principal: uma massiva campanha judicial realizada pela Igreja e pela classe dominante contra as mulheres da população rural. Essa campanha foi assumida, tanto pela Igreja Católica, como a Protestante e até pelo próprio Estado, tendo um significado religioso, político e sexual. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas neste período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças que haviam “herdado este mal”.
Ao buscarmos uma definição do termo “bruxa” em dicionários, logo pode-se perceber a direta vinculação com uma figura maléfica, feia e perigosa. Neste sentido, também os livros infanto-juvenis costumam descrever histórias onde existe uma fada boa e linda e uma bruxa má e horrível.
Ao analisarmos o contexto histórico da Idade Média, vemos que bruxas eram as parteiras, as enfermeiras e as assistentes. Conheciam e entendiam sobre o emprego de plantas medicinais para curar enfermidades e epidemias nas comunidades em que viviam e, consequentemente, eram portadoras de um elevado poder social. Estas mulheres eram, muitas vezes, a única possibilidade de atendimento médico para outras mulheres e pessoas pobres. Elas foram por um longo período médicas sem título. Aprendiam o ofício umas com as outras e passavam esse conhecimento para suas filhas, vizinhas e amigas.
Poucas dessas mulheres realmente pertenciam à bruxaria, porém, criou-se uma histeria generalizada na população, de forma que muitas das mulheres acusadas passavam a acreditar que eram mesmo bruxas e que possuíam um “pacto com o demônio”. O estereótipo das bruxas era caracterizado, principalmente, por mulheres de aparência desagradável ou com alguma deficiência física, idosas, mentalmente perturbadas, mas também por mulheres bonitas que haviam ferido o ego de poderosos ou que despertavam desejos em padres celibatários ou homens casados.
Diante de tantas mortes de mulheres acusadas por bruxaria durante este período, podemos afirmar que o ocorrido se tratou de um verdadeiro genocídio contra o sexo feminino, com a finalidade de manter o poder da Igreja e punir as mulheres que ousavam manifestar seus conhecimentos médicos, políticos ou religiosos. Existem registros de que, em algumas regiões da Europa a bruxaria era compreendida como uma revolta de camponeses conduzida pelas mulheres. Nesse contexto político, pode-se citar a camponesa Joana D`arc, que aos 17 anos, em 1429, comandou o exército francês, lutando contra a ocupação inglesa. Esta acabou sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição e queimada na fogueira antes de completar 20 anos. Diante disso, configurava-se a clara intenção da classe dominante em conter um avanço da atuação destas mulheres e em acabar com seu poder na sociedade, a tal ponto que se utilizava meios de simplesmente exterminá-las.
A Inquisição, também chamada de Santo Ofício (que de Santo não tinha nada), era formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta.
Fazendo um paralelo com o momento atual, você nota algumas semelhanças? Observe e analise. Hoje vivemos a Inquisição digital, onde as pessoas nas redes perseguem, julgam e punem qualquer postura que não é perfeita e não condiz com senso de justiça dos juízes da internet. A fogueira são os cancelamentos e a sentença de morte (bloqueio) da vida privada e seu like, compartilhamento sem checagem ou sua opinião desnecessária são os fósforos que a acendem. Até quando vamos queimar as pessoas ao invés de olhar para nossos próprios infernos íntimos?
(Fontes Natália Huf -PPGJOR/UFSC, G1, Observatório de imprensa, A mente é maravilhosa, Rede Scientia, Reuters, BBC, Veja e Ministério da Saúde)